[169] Quando há excesso de zelo
Milhares de pássaros voam em direcção à luz
milhares de pássaros caiem e milhares se estatelam
milhares de pássaros cegos e milhares atingidos
milhares de pássaros morrem
O guarda do farol não pode suportar semelhante coisa
ama demasiado os pássaros
e então diz Tanto pior que se lixe!
E apaga tudo.
Ao longe um cargueiro naufraga
um cargueiro que vinha das ilhas
um cargueiro carregado de pássaros
milhares de pássaros das ilhas
milhares de pássaros afogados.
(jacques prévert, le guardien du phare aime trop les oiseaux)
[168] ... alheio à luz e ao anzol

(Claire Petit)
Um peixe fora de água
em toda a água.
Salvo a turva, pluviosa, estagnada.
Um peixe fora dessa sua condição.
Bicho, não mais.
Sujo para que se toque
sem nojo. Animal frio.
Um peixe quase peixe fora de toda
a água, fora de salvação
e conceito, sempre alheio,
bizarro, incompatível.
Dentro e fora de água igualmente
Peixe, igualmente nada,
acostumado à inexistência,
alheio à luz e ao anzol.
(pedro mexia, um peixe fora de água in vida oculta)
[167] ... não digo o nome - não ouso...
ser procurado
- sente-o -
pelo desejo humano.
Aflige-o
ter sobre si
aquele hálito
ou aquela cobiça
de uma mente
sabuja que o fareja
e não o reconhece
em si vivo desde sempre
assim o penso amiúde
paciente e sofredor
quem? o único pensável
que me é dado,
que vislumbro
mas não digo o nome - não ouso,
com que nome chamá-lo? -
é apenas
e sempre o meu
eu que se prolonga
com a sua angústia,
temo - com que nome chamá-lo? Nomen...
(mario luzi, viaggio terrestre e celeste di simone martini)
[166] Alegoria da campanha eleitoral
25.1.05O sítio dele era à entrada da ponte, no Largo Velho.
- Ora aqui temos nós a última descoberta científica do século!
Falava de cima de uma cadeira, em pé, ao lado de uma mesa, sobre a qual estava um grande baú aberto. Passeava-lhe um rato branco pelos ombros, e era impossível fugir à magia daquela enorme cabeleira, que lhe coroava uma bela fronte de lutador. Só vinha na feira dos vinte e três. Armava a tenda logo pela manhã, e daí a nada já tinha freguesia a beber-lhe as palavras. A sua voz era sugestiva, funda, com quantos tons eram precisos para encantar homens de todas as terras e de todas as raças.
- Façam favor de ver...
E só quem era cego é que não via.
- Vou agora contar-lhes uma anedota.
Os que já faziam parte da roda arrebitavam as orelhas; os que iam no seu caminho paravam e ficavam maravilhados, a ouvir. No fim, todos se riam, que a coisa tinha, na verdade, graça.
Os tempos iam de mal a pior. Deus sabe com que vontade quem tinha os seus precisos para o resto do ano os vinha vender por qualquer preço. Por isso, depois de duas lágrimas dadas ao balido de uma ovelha, à mansidão de um porco criado a caldo, ou à brancura de uma peça de linho fiada à luz da candeia e a horas tiradas ao sono, era um alívio perder meia hora ali. Iam-se embora as canseiras, os cuidados, e a feira passava a ter o ar de festa que o coração de todos desejava.
E não pensasse lá ele que acreditavam nas aldrabices que dizia do elixir! Quem? Mas, enfim, eram só dez tostões, e às vezes, para um remedeio...
- Vou agora mostrar a V. Ex.as a autêntica víbora da felicidade!
Excelências! Estava a brincar, ou a falar a sério? Mas, ao fim e ao cabo, quem é que não gosta, uma vez na vida, de ser tratado por excelência? E um de Almalaguez perdeu a cabeça e lá comprou aquele “talismã da Ventura” por cinco escudos.
- Bem burro! – não se conteve uma criada.
Mas estava era com pena de a não ter comprado ela.
Já nova maravilha saía das profundezas do baú.
- Sarna, pruridos, eczemas, impingens, lepra, furúnculos, tudo quanto uma pele humana possa conceber, é enquanto o Demónio esfrega um olho! Vejam: pega-se na ulceração, um bocadinho de pomada em cima, ao de leve e pouco, que é para poupar, e não se pensa mais nisso! Cinco tostões apenas! Só a caixa vale quinze! Aproveitem! Aproveitem, que numa drogaria custa-lhes dois escudos!
Até um soldado estendeu o braço à pechincha.
- Tu para que é que queres isso? – interrogou, espantado, um colega.
- Sei lá!
Não prestava: era a convicção geral. Mas aqueles olhos a fuzilar o mal e a curá-lo; aquele rato branco, de quando em quando parado e atento às palavras do dono; aquela mão erguida ao alto como um destino turvavam a vontade do mais pintado.
- Aldrabão!... – gritava-lhes o resto do bom senso na agonia.
Pois sim. Era ouvi-lo. Era esperar um instantinho e então se veria.
- Eu sei que há muitas pessoas que me chamam aldrabão. Coitadas! Onde pode chegar a ignorância humana! Ora vejamos...
E pantomineiros, daí a pouco, passavam a ser aqueles indivíduos que todos os da roda tinham como pessoas fora do alcance de qualquer suspeita. Mas ele? Pelo amor de Deus! Quem é que tinha a coragem de vir assim, honestamente, explicar os factos, receber sugestões, pôr-se, numa palavra, em contacto directo com o respeitável público? Aldrabão! Sempre a mesmíssima coisa! Mas não era isso que lhe fazia cabelos brancos. Dava o mundo inteiro como testemunha da sua isenção e da sua honradez...
- Duvidam?
O silêncio de todos bastava-lhe como resposta.
(miguel torga, rua, o charlatão)
[165] Aos vários candidatos...
De repente, atacou-me o tédio e desatei a chamar-lhe: calmeirão, cagamerdeiro, fideputa, molengão, tolaço, cabeça de grulha, aleivoso, beiçudo, bargante, sandeu, rabugento, entrecosto de carrapato, rebolão, neto da cagarrinhosa, burrela, cornudo, furta-cebolas, cabrão, refião, mexeriqueiro, trogalho, gamo, rascão, escarnefucheiro, carrapatento, descancarrado, sotrancão, malino, abantesma, emboladeiro, sandivarrão, zambro, farinheirão, saioteiro, mulo do judeu, enfrestado, gericocim, alarve de má corrença, barzoneiro, peco, bestigo, gafo de saimento e outros epítetos.
[164] Intervenção política

Dizem que já noutra idade
falaram os animais,
e eu creio que por sinais
inda hoje falam verdade.
Ouvi contar como então
se fez valente e temido
um vil jumento, escondido
nos despojos de um leão.
Enquanto de longe o viam
os outros, fugiam dele:
eram milagres da pele
do rei, a que eles temiam.
Quis falar, buscou seus danos,
que os outros, com raiva crua,
fazem pagar pela sua
da outra pele os enganos.
Quantos há, na nossa aldeia,
leões e lobos fingidos,
que houveram de andar despidos,
se não fora a pele alheia!
(rodrigues lobo - 1580-1622)
Pode parecer que o dedico a quem seria óbvio dedicá-lo, mas não. A coisa, infelizmente, é bem mais geral: «quantos há na nossa aldeia»!!
[163] ... dai-me esta calma, esta pobreza!
24.1.05
(diego rivera, a noite dos pobres)
Ser a moça mais linda do povoado;
pisar, sempre contente, o mesmo trilho;
ver descer sobre o ninho aconchegado
a bênção do senhor em cada filho.
Um vestido de chita bem lavado,
cheirando a alfazema e a tomilho;
com o luar a matar a sede ao gado,
dar às pombas o sol num grão de milho...
Ser pura como a água da cisterna,
ter confiança numa vida eterna,
quando descer à «terra da verdade»...
Meu Deus, dai-me esta calma, esta pobreza!
Dou por elas meu trono de Princesa,
e todos os meus reinos de Ansiedade.
(florbela espanca)
[162] ... trégua aos tormentos
Sozinha no bosque
com meus pensamentos,
calei as saudades,
fiz trégua aos tormentos.
Olhei para a lua,
que as sombras rasgava,
nas trémulas águas,
seus raios soltava.
Naquela torrente
que vai despedida,
encontro, assustada
a imagem da vida.
Do peito, em que as dores
já iam cessar,
revoa a tristeza,
e torno a pensar.
(marquesa de alorna)
[161] ... teço a tua infância...
23.1.05Falou-se de ti, demoradamente, à volta das lareiras
a seguir às devoções da noite
nestas casas cinzentas onde impassível
o tempo traz e expulsa rostos de homens.
Depois, conversou-se sobre outros e seus haveres,
foram casamentos, mortes, nascimentos
o melancólico ritual da vida.
Alguém, forasteiro, passou por aqui e desapareceu.
Eu mulher velha nesta velha casa,
coso o passado com o presente, teço
a tua infância com a do teu filho
que atravessa a praça com as andorinhas.
(mario luzi, parca-villaggio in il giusto della vita, 1951)
[160] breve convite à vida
[159] breve convite ao amor
o lago ao fundo. vestes de branco.
a cobrir a tua pele escura e luzente.
o sorriso. só de lábios. a fotografia impõe-to sofisticado.
o teu peito a estremecer. quando o olho.
os teus seios maravilhosos. suculentos. cheirosos. rijos.
deste-me a moldura. tenho-te aqui
junto a mim. na escrivaninha.
gosto de te ter aqui. está frio. aqueces-me.
olhando-me amas-me e assim me sinto.
olho-te. serena.
[157] breve convite a adiar o suicídio
Está bem, tens razão
em te quereres matar.
Viver é uma ofensa
que suscita indignação...
Mas por agora, adia...
É apenas um breve convite,
deixa para outro dia.
Está bem, tens razão
em quereres dar-te um tiro.
Um dia fá-lo-ás
com determinação.
Mas por agora, adia...
É apenas um breve convite,
deixa para outro dia.
Esta aparência de vida
tornou antiquado o suicídio.
Esta aparência de vida, senhora,
não o merece...
(música: f. battiato; do cd: l'ombrello e la macchina da cucire; texto: m. sgalambro)
[156] aligeiramento da existência vs. consciência trágica
21.1.05(e. hopper, pessoas ao sol)
[...] o aligeiramento é o equivalente moderno daquilo a que chamamos a libertação ou a redenção nas religiões clássicas como o cristianismo. Aquele que aligeira substitui aquele que salva, é a quintessência dos tempos modernos.
Um erro? Sim, talvez. Claro que é um erro para uma cultura passar-se por cima da questão da libertação, é um erro para os homens mostrarem-se mais leves do que aquilo que podem sê-lo. Mas seria também um erro apelar à tragédia com a única finalidade que tudo reencontre a sua digna dureza e que nós possamos de novo enfeitar-nos com a nobreza ontológica do peso.
Para mim, o compromisso entre o leve e o pesado exprime-se da seguinte maneira: tanto aligeiramento quanto for possível, tanta consciência trágica quanta for necessária.
[P. Sloterdijk (1999). Ensaio sobre a intoxicação voluntária. Lisboa. Fenda]
[155] ... a justificação
Enfim, contrariamente ao que pode parecer, nenhum pressuposto catastrofista ou optimista quanto ao futuro do nosso país subjaz a este breve escrito [...] Procurou-se dizer o que é, sem estados de alma, mas com a intensidade que uma relação com este país supõe. [José Gil (2004). Portugal, hoje. O medo de existir. Lisboa. Relógio de Água]
ADENDA. Leia-se também «Aconteceu ou não aconteceu?» - pertinente observação de J. Camilo - no Blue Everest e, sobretudo, medite-se sobre a «questão premente neste início de século: para que servem os maîtres-à-penser?»
[154] Tríptico cultural: Teremos medo de existir?
É assim que procedem os intelectuais quando fazem crítica cultural: semeiam o medo e recolhem depois as consequências – são os aproveitadores da crise, sacerdotes em tempos neuróticos... [Peter Sloterdijk (1999). Ensaio sobre a intoxicação voluntária. Lisboa. Fenda)
II
Em Portugal, nada acontece [...]; Em Portugal, não há debate político [...]; Em Portugal, a arte não tem espaço público [...]; Em Portugal, a arte não entra na vida, não transforma as existências individuais[...]; Em Portugal, não há uma comunidade literária como não há uma comunidade artística ou científica [...]; Em Portugal, o espaço público falta cruelmente [...]; Em Portugal, nada mudou [...]; Em Portugal, os trabalhos académicos não circulam na opinião pública [...]; Em Portugal, o nível de conhecimento geral é extremamente baixo [...]; Em Portugal, o direito à cultura e ao conhecimento ainda não chegou ao sentimento da população [...]; Em Portugal, o medo, a reverência, o respeito temeroso, a passividade perante as instituições e os homens supostos deterem e dispensarem o poder-saber não foram ainda quebrados por novas forças de expressão de liberdade [...]; o Portugal democrático de hoje é ainda uma sociedade de medo [...]; Em Portugal, vivemos numa sociedade sem espírito crítico [...]; Portugal conhece uma democracia com um baixo grau de cidadania e de liberdade [...]; Em Portugal, não existe o fora [...]; Em Portugal, nada se inscreve, quer dizer, nada acontece [...]; Portugal é o país por excelência da não-inscrição [...]; Em Portugal, a lei não se cumpre, os programas não se realizam, não se pensa nunca a longo prazo, as fiscalizações não se fazem, a administração não se transforma realmente, os projectos de reforma não se executam, os governos não governam [...]; Em Portugal, nada tem realmente existência[...]; Em Portugal, nada tem efeitos reais [...]; Em Portugal...
O português revê-se no pequeno, vive no pequeno, abriga-se no pequeno e reconforta-se no pequeno: pequenos amores, pequenas viagens, pequenas ideias [...]; Os portugueses não sabem falar uns com os outros, nem dialogar, nem debater, nem conversar [...]; Os portugueses vivem do queixume, do ressentimento e são invejosos; Os portugueses...
Citações avulsas retiradas de José Gil (2004). Portugal, hoje. O medo de existir. Lisboa. Relógio de Água; mais galhardetes do género podem ser encontrados na revista Pública de domingo passado e, sobretudo, no último JL (José Gil, A audácia do filósofo).
III
- Senhor doutor, parabéns pela sua intervenção cirúrgica.
- O paciente, como está?
- O paciente morreu, mas a operação foi um êxito.
[151] instalação para horas turvas (sem imagens)
14.1.05encerra, por instantes, olhos e boca
silencia o torvelinho
busca o calor de um afago
apela ao vigor que te habita
e ousa voltar à dança da vida.
[144] A arte segundo Munch
Art emerges from joy and pain. Mostly from pain. It grows from human life. Is art a description of this life - of its motion. Should it show the various pleasures, the various sorrows? Or should one simply see flowers, whose character, type and vibration are determined by joy and pain.
Artists of this country. Poets - those sensitive phonographs - they have the great anda painful ability to record the emanations - sent out by society. This gives the poets power - a condensed extract. If na artist is chased away from his country - that country also chases away - a fully charged electric force.
(POUL E. TØJNER (2003). Munch in His Own Words. Munique. Prestel Verlag)
[142] e este é o dia de anos do sol
obrigado Meu Deus por mais este espantoso
dia:pelos saltitantes e virentes espíritos das árvores
e um azul autêntico sonho celeste;e por tudo
o que é natural o que é infinito o que é sim
(eu que morri estou hoje vivo de novo,
e este é o dia de anos do sol; este é de anos
o dia da vida e do amor e asas:e do alegre
grande evento ilimitavelmente terra)
como poderia saboreando tocando ouvindo vendo
respirando qualquer - erguido do não
de todo o nada - ser simplesmente humano
duvidar inimaginável de Ti?
(agora os ouvidos dos meus ouvidos despertam e
agora os olhos dos meus olhos estão abertos)
(e.e.cummings, xix poemas.
[141] Aos sóis
12.1.05[139] O dióspiro
Numa manhã cinza de Domingo, numa cidade só e imóvel, numa rua fria de Janeiro: duas filas de plátanos nus e folhas pelo chão. A cidade preguiça, o rio boceja: tudo desliza num silêncio enregelado. As margens: um tapete de erva húmida e um estranho paraíso de romãs e dióspiros.
O nevoeiro cai em cacimba, num homem só e imóvel, numa ponte fria de Janeiro, num corpo anestesiado e tolhido: um vazio moribundo num cigarro apagado.
Take me down, to the underground.
Não há vau nem almegue: nem pulsações ritmadas de conforto. Só uma ponte, só ele de mãos nos bolsos e gola levantada: resvala-lhe a alma no abismo... (Num Alperceiro-do-Japão carregado, ali perto, bem perto, cai sumarento um dióspiro em racha e maduro). Ele desperta. Acende o cigarro. O vento fustiga-lhe as ventas: o dióspiro expulsa-o dali. Vai-se embora. Não é a sua hora. A luta pela vida começou nesse instante.
(Dedicado ao MBT e a todos aqueles que ,tentando, viram felizmente gorar-se as suas intenções)
[138] Intervenção política
[137] Jejum e abstinência
11.1.05[136] Se música é a mulher amada (Mario Luzi)
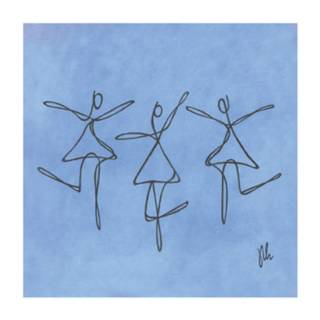
Ma tu continua e perditi, mia vita,
per le rosse città dei cani afosi
convessi sopra i fiumi arsi dal vento.
Le danzatrici scuotono l'oriente
Appassionato, effondono i metalli
del sole le veementi baiadere.
Un passero profondo si dispiuma
sul golfo ov'io sognai la Georgia:
dal mare (una viola trafelata
nella memoria bianca di vestigia)
un vento desolato s'appoggiava
ai tuoi vetri com una piuma grigia
e se volevi accoglierlo una bruna
solitudine offesa la tua mano
premeva nei suoi limbi adorosi
d'inattuate rose di lontano.
[Mario Luzi, Avvento notturno, (se musica è la donna amata) (1938)]
[135) Dançarina verde (Mario Luzi)
Destini si propagano ove annotta
l'inquietudine estrema dei velari,
ella dalla profonda aria morta
la sua mano ritrae come un pianeta.
Solo uno sguardo evade la sua forma.
La vertigine esente di sorriso
nelle sue braccia palpita e s'adorna
d'un eco bianca elusa dal suo viso.
Poi del moto fingeva ogni clemenza
nell'onda di smeraldo che si stempra
nella memoria, origine e parvenza
della morte is paesaggio del suo passo.
Carità delle gonne; rifluiva
indi l'informe, indi la vita in ombre
di viola dal vuoto costellato
di vigilie al mio sguardo senza meta.
[134] Tango (Mario Luzi)
(Misha Lenn, Tango Argentina)
Poi sulla pista ardente
Lontanamente emerse
La donna spagnola,
era un'ombra intangibile in un soffio
di musiche viola il suo sorriso.
Percepiva l'accento
della notte col senso melodioso
del suo passo e quel ciclo
di libertà inibita era l'evento
triste della sua vita senza scampo.
[Mario Luzi, Avvento notturno, Tango (1938)]
[133]... ficar ali eternamente, se quisesses
Sentas-te. Esticas as pernas, os braços, olhas à volta ou para o chão. Nenhum movimento ainda por detrás dos vidros das janelas protegidas por cortinas. Esqueces-te de pensar, esqueces-te de te preocupar, sentes que te invadiu uma grande paz interior. Olhas o céu lá em cima, cinzento. O ar frio na pele do rosto agrada-te, respiras fundo de novo. Quando baixas o olhar ele percorre lentamente a fachada das casas, as folhas, os ramos, os troncos das árvores. Recordações de outras casas, de outras árvores, de outros dias acenam fugidiamente, sem realmente se sobreporem a este instante. Podias ficar ali eternamente, se quisesses. Mas não queres. Estão à tua espera? Não sabes, não queres sequer pensar nisso. Cada coisa em seu tempo. Sim, talvez alguém espere por um telefonema teu, mas não interessa. A cidade ainda por descobrir basta-te.
Levantas-te, recomeças a caminhar, continuas a descobrir, passo a passo, a rua. Vais-te apoderando dela sem esforço, como se estivesses preparado para isso há muito tempo. As pessoas chegarão mais tarde com as suas inquietações, o seu nervosismo, a sua pressa, introduzindo-se sem maneiras no tempo que - pensam elas, seguras de si - lhes é devido. Repetes que não queres saber disso. Tens muito tempo, todo o tempo. Elas também têm muito tempo, não deviam inquietar-se.
Não se apressar, dizes para ti mesmo. Ou não o dizes, limitas-te a pensá-lo ou a senti-lo. Bruscamente sobes pelo muro e pisas com os pés a erva húmida. Que te importa a lama nos sapatos? Nada. A terra cede suavemente, com um ruído macio, debaixo dos teus passos. É como se te acariciasse ela também, com uma fraternidade antiga, conhecida. Metes as mãos frias nos bolsos. Continuas a caminhar, mas deixaste de pensar, sais do tempo. (João Camilo, Blue Everest).
[131] «... no inútil...»
9.1.05[130] «...o amor terá bastado...»
«Num livrinho hoje desconhecido, intitulado A ponte de São Luís Rey, o escritor americano Thornton Wilder inventa uma personagem, o irmão Junípero, que, numa pequena aldeia peruana, tenta responder a uma questão impossível: se Deus é justo e bondoso, então deve haver uma contabilidade, uma lógica entre a prática do bem e do mal.
Incentivado por esta questão, o herói investiga a morte acidental de cinco pessoas quando atravessavam uma ponte num dos muitos desfiladeiros que cortam os Andes. A sua busca é inútil: os bons muitas vezes sofriam mais do que os corruptos, os depravados e os malvados gozavam não somente de boa saúde, mas de uma vida repleta de coisas agradáveis.
A descoberta do irmão Junípero é belíssima, eu cito:
Em breve, porém, morreremos todos e toda a recordação (desses cinco) terá deixado o mundo, e nós mesmos seremos amados um pouco e, depois, esquecidos. Mas o amor terá bastado, pois todos esses impulsos do amor voltam ao amor que os criou. Nem a memória é necessária ao amor. Há uma terra dos vivos e uma terra dos mortos e a ponte entre elas é o amor: o único sobrevivente, o único significado.
No dia em que eu partir para o nada, para o céu e para o esquecimento ao qual todos estamos destinados, fiquem seguros de que a minha foi balizada por esse amor».
[129] «E pode parar a qualquer momento».
(Frans Masereel)
Um dia há vida. Um homem, por exemplo, de perfeita saúde, nem sequer velho, nenhuma história de doenças. Tudo está como sempre esteve, como sempre estará. Ele passa de um dia a outro, não se ocupa de outra coisa senão dos seus assuntos, sonha apenas com a vida que tem à frente. E então, de súbito, acontece que há a morte. Um homem solta um pequeno suspiro, afunda-se na sua cadeira, e é a morte. O carácter súbito desse facto não deixa o menor espaço ao pensamento, não dá à mente a menor hipótese de procurar uma palavra capaz de a confortar. A única coisa com que ficamos é a morte, o irredutível facto da nossa própria mortalidade. A morte depois de uma longa doença, podemos aceitá-la com resignação. Mesmo a morte acidental, podemos imputá-la ao destino. Porém, o facto de um homem morrer sem nenhuma causa evidente, o facto de um homem morrer simplesmente porque é um homem, deixa-nos tão perto da invisível fronteira entre vida e morte que já não sabemos de que lado estamos. A vida converte-se em morte e é como se esta morte sempre tivesse sido dona e senhora desta vida. Morte sem aviso. O que é o mesmo que dizer: a vida pára. E pode parar a qualquer momento.
(Paul Auster. Inventar a solidão. Porto, Edições Asa).
[128] ética poética
No Blue Everest um excelente critério de avaliação de ética poética. Quem quiser enfiar a carapuça... faça favor. A mim assenta-me na perfeição.
Se uma frase se revela tola, ridícula, inútil, superficial, pretensiosa ou pirosa fora do poema, não é por estar dentro de um poema e em forma de verso que deixa de o ser e adquire poderes sobrenaturais.
Não basta à linguagem ter, pelo tom e disposição na página, a aparência de poema para sê-lo. Admita-se que a linguagem literária tem um estatuto peculiar; mas nem por isso escapará nunca à prova do ridículo nem da eficácia.
[127] Lembretes de seda (V)
7.1.05[121] A LER na revista PSYCHOLOGIES (Jan. 2005)
O editorialista refere-se às experiências de Dean Hamer (The God Gene, Doubleday Books, 2004), investigador americano na área da genética, que afirma que a fé religiosa estaria inscrita nos nossos genes. Deus não é mais do que uma secreção do espírito humano e as religiões reduzem-se a trocas químicas que ocorrem no cérebro. Conclui Servan-Schreiber:
2) O artigo, na mesma revista (p. 46-53) Le choc des images. Comment s’en protéger de Serge Tisseron (psiquiatra e psicanalista especializado na descodificação do nosso ambiente visual). Muito actual. Actualíssimo. A ser lido, in primis, pelos directores de informação das várias televisões portuguesas!
[120] Narrar a cidade: a sala num prédio
6.1.05(Edward Hopper, Room in New York, 1932)
O amarelo torrado da parede do fundo, que ilumina a sala como por efeito de um holofote, e o castanho avermelhado da porta enganam no calor que pretendem emanar. Ou então, estão ali, precisamente, para indicarem que aquela sala no prédio é um lugar de intimidade, entre homem e mulher. De início é a luz quente que salta à vista do observador.
Um olhar sucessivo nota um contraste: o parapeito negro, que serve de moldura à cena, cria um limiar entre o fora - escuro -, e o dentro - luminoso -. Que seja escuro pressagia já o que o interior mostra com evidência.
Ele. Ela. De permeio a mesa despida - o fulcro do quadro. Não há intimidade. Aliás, não há comunicação. Cada qual parece absorto no que faz. Mas é engano. Pouco antes havia expectativas, o vestido vermelho indica-o. A direcção das pernas mostra-o. Mas goraram-se, di-lo o indicador a martelar na tecla, a sombra no rosto e a torção dolorosa do tronco. Não há actividade, mas retraimento e contracção. Isolamento. Angústia na relação. E a mesa despida de permeio.
Ele lê, de mangas arregaçadas, colete e gravata. Está num lugar íntimo, mas podia estar numa escrivaninha de guarda-livros. Não há diferença, nele, entre o dentro - íntimidade - e o fora -esforço na acção. Di-lo a roupa do burocrata. E a mesa despida de permeio.
Impressionam os rostos esbatidos, as fisionomias pouco definidas. Como não se comunica não há identidade. Como não há identidade não se comunica. Não há relação. São pessoas que não o são. Nem na complementaridade sexual. Limitam-se a estar.
Alguém disse que a cena é opressiva na sua banalidade e intimidade. É uma alegoria moderna do tédio profundo. A cidade também vive nesta impotência de ser íntimos, nesta fuga precipitada no isolamento.
[119] Narrar a cidade: o pátio
5.1.05
[John Ruskin, A courtyard at Abbeyville (1858)]
Logo no primeiro instante há um fascínio que o pátio acende... Talvez pela antiguidade - é de finais do século XV -, talvez pela riqueza dos elementos - as janelas, a porta (e, por cima dela, a escada de madeira), a pipa, o arco, as pedras, os instrumentos de jardinagem, o nicho de Nossa Senhora, os vestígios de uma parreira... -.
Se eu passasse por aqui, numa manhã quente, veria uma cena familiar: uma manta estendida no chão, quadrada e abundante - o meu mundo de então -, com um rebento em panos de bebé, sentado no meio. Ladeia-o uma menina de cinco anos, com puxinho, de vestido branco curto, com dois bolsos, sapatos brancos e meias dobradas, da mesma cor. De pé, parecendo o homem de Vitrúvio, o pai: de mãos nas ancas, pernas alargadas e sorriso na boca, vestido de calças e camisa da mesma cor azulada. A mãe, de carrapito, bonita e exuberante, desce os dois degraus que, da cozinha, dão para o pátio: traz um vestido cor de rosa às florzinhas roxeadas e na mão uma locomotiva de brinquedo.
Dou-lhe um título: a manta no pátio.
[118] Trovadores: Art Sullivan
4.1.05
Foi na última consoada. A Gena recorda a sua adolescência - era eu puto, sendo ela, minha irmã, cinco anos e meio mais velha. Lembro-me desse tempo. Das paredes do seu quarto forradas a cartazes, que um apaixonado lhe entregava assim que saía a Música & Som (quem se lembra dessa velhinha?).
Recordo. Por cima da sua cabeceira, o Leo Sayer. Nas laterais, um pouco mais afastados do coração, lá estavam os Yes, os Van Der Graaf Generator, seguidos pelos Boney M, pelo Patrick Hernandez... Mais chegado à altura da cabeça, quem sabe para um último relance antes de adormecer ou, até, um beijo oculto, o divo Art Sullivan!
Esta sua paixão agudizou-se com a canção «Jenny lady», que remetia de imediato para «Gena Lady». E era ouvir os seus amigos a repetirem o refrão (e como ela adorava!): «Gena, Gena, Gena lady; Gena, Gena lady come back!».
Pour ce regard d'autrefois
[117] Sei tornata!
3.1.05[116] APRENDER: a sentir
2.1.05«Nos queda toda la vida» - me ha respondido él sin mirarme. - «No pienses qué debes sentir, simplemente siente».
[115] Em 2005: assinar a vida
1.1.05
Antes de mais desenhar uma gaiola
de porta aberta
depois desenhar
algo de gracioso
algo que seja simples
algo que seja belo
algo de útil
para o pássaro
de seguida pendurar a tela numa árvore
num jardim
num bosque
ou numa floresta
esconder-se por detrás dessa árvore
sem dizer nada
e sem se mexer...
Por vezes o pássaro chega logo
mas também pode demorar anos e anos
antes de se decidir
Não desencorajar-se
esperar
esperar se necessário anos a fio
a rapidez ou a lentidão da vinda do pássaro
nada tem que ver
com resultado final do quadro
Quando o pássaro chega
se é que chega
observar o silêncio mais absoluto
esperar que o pássaro
entre na gaiola
e assim que o fizer
fechar docemente a porta com o pincel
e depois
apagar uma a uma todas as barras
com cuidado para não tocar nas penas do pássaro
Chegado a este ponto fazer o retrato da árvore
escolhendo o ramo mais bonito
para o pássaro
desenhar agora as folhas verdes e a frescura do vento
a poeira do sol
o ruído dos insectos escondidos na erva
na calidez estival
depois esperar que o pássaro tenha vontade
de começar a cantar
Mas se não canta
é mau sinal
sinal de que o quadro é mau
mas se canta é bom sinal
sinal que podeis assinar o quadro
Então arrancareis
com grande doçura
uma das penas do pássaro
e escrevereis o vosso nome num canto do quadro.
(Jacques Prévert, Pour faire le portrait d'un oiseau)








































